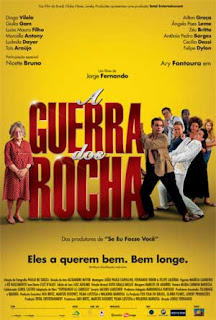Concorrente à Palma de Ouro em Cannes 2008, onde foi ovacionado pela crítica, Leonera, filme do argentino Pablo Trapero, retrata com uma virtuosa densidade dramática um crime mal explicado e compreendido através de sua principal personagem – Júlia Zarate (em uma bela interpretação de Martina Gusman), uma jovem universitária que acorda de um pesadelo para, literalmente, cair em outro. Porém, desta vez um pesadelo real. Um provável triângulo amoroso entre Júlia, seu namorado misteriosamente assassinado e Ramiro (Rodrigo Santoro, em apenas alguns planos, contudo fundamentais para enriquecer a trama) proporcionam, em um lúgubre apartamento, apenas o início do calvário de Júlia.
Concorrente à Palma de Ouro em Cannes 2008, onde foi ovacionado pela crítica, Leonera, filme do argentino Pablo Trapero, retrata com uma virtuosa densidade dramática um crime mal explicado e compreendido através de sua principal personagem – Júlia Zarate (em uma bela interpretação de Martina Gusman), uma jovem universitária que acorda de um pesadelo para, literalmente, cair em outro. Porém, desta vez um pesadelo real. Um provável triângulo amoroso entre Júlia, seu namorado misteriosamente assassinado e Ramiro (Rodrigo Santoro, em apenas alguns planos, contudo fundamentais para enriquecer a trama) proporcionam, em um lúgubre apartamento, apenas o início do calvário de Júlia.A situação da personagem ganha um outro enfoque, um novo ambiente – o cárcere. Com o decorrer da trama, nota-se que o roteiro não faz concessões óbvias ao crime que dá, por consequência, a detenção de Júlia, mostrando-a confusa e refutando a idéia de maternidade. A atuação da atriz Martina Gusman, sobre semblantes carregados e sem perspectivas em seu novo destino, proporciona ao filme uma carga dramática acentuada (mas sem exageros), enriquecendo a centralização do filme: é um só personagem e seu espaço.
 O espaço em questão é o cárcere, ao qual Júlia terá de adaptar-se, pois terá de viver neste difícil ambiente por tempo indeterminado, até seu julgamento. O filme poderia se encaminhar para uma condução melodramática das agruras da personagem principal, mas não é isso que acontece. Pablo Trapero insere o espectador em uma jornada aos bastidores do cárcere feminino, mostrando suas estruturas e mazelas, o convívio entre mulheres condenadas, muitas delas com crianças crescendo sob um ambiente inadequado. Eis a principal referência que a estória em questão proporciona: o convívio e a adaptação de uma jovem mãe detida, ainda sem saber o que o futuro lhe reserva.
O espaço em questão é o cárcere, ao qual Júlia terá de adaptar-se, pois terá de viver neste difícil ambiente por tempo indeterminado, até seu julgamento. O filme poderia se encaminhar para uma condução melodramática das agruras da personagem principal, mas não é isso que acontece. Pablo Trapero insere o espectador em uma jornada aos bastidores do cárcere feminino, mostrando suas estruturas e mazelas, o convívio entre mulheres condenadas, muitas delas com crianças crescendo sob um ambiente inadequado. Eis a principal referência que a estória em questão proporciona: o convívio e a adaptação de uma jovem mãe detida, ainda sem saber o que o futuro lhe reserva.Os detalhes do cotidiano carcerário feminino dão a vivacidade e a crueza da realidade vivida nos presídios, desde a ausência familiar, o flerte homossexual sob forma de necessidade humana de afeto e as relações de poder e castigo do sistema. Voltando ao calvário da personagem, um adendo à trama aumenta a aflição de Júlia: o nascimento e a aceitação de seu filho, o pequeno Tomas, fruto da confusa (e pouco dissecada no filme) relação amorosa do triângulo composto no começo da trama. Antes mesmo de haver um plano filmado, a situação fica evidente nos créditos iniciais, ao som de uma música que sugere a exaltação da infância.
 Mesmo com o oportuno interesse de sua mãe, personagem até então ausente na estória, e algumas visitas de Ramiro, que por sua vez preza pelo egoísmo para tentar se safar da condenação, consequentemente selando o destino de Júlia, a jovem mãe passa a ganhar respeito e consideração no presídio através de seu convívio com a veterana Marta, sua tutora, uma espécie de matriarca que adotou a jovem confusa e frágil detenta. Trapero já havia retrato em outro filme, o ótimo O Outro Lado da Lei (El Bonaerense, ARG, 2001), o submundo e as individualidades, o universo das prisões e suas relações de poder, acentuando ainda mais essa tenacidade em Leonera.
Mesmo com o oportuno interesse de sua mãe, personagem até então ausente na estória, e algumas visitas de Ramiro, que por sua vez preza pelo egoísmo para tentar se safar da condenação, consequentemente selando o destino de Júlia, a jovem mãe passa a ganhar respeito e consideração no presídio através de seu convívio com a veterana Marta, sua tutora, uma espécie de matriarca que adotou a jovem confusa e frágil detenta. Trapero já havia retrato em outro filme, o ótimo O Outro Lado da Lei (El Bonaerense, ARG, 2001), o submundo e as individualidades, o universo das prisões e suas relações de poder, acentuando ainda mais essa tenacidade em Leonera. A luta de Júlia para tentar sair da prisão e, principalmente, para não perder a guarda de seu filho é a via final para o desfecho da trama. Pois progressivamente, a película vai mostrando a jovem mãe aflorando sua beleza e maturidade maternal, mesmo num meio onde o ser humano é consumido por suas aflições. Vale questionar agora o porquê de Leonera ser o nome do filme?
A luta de Júlia para tentar sair da prisão e, principalmente, para não perder a guarda de seu filho é a via final para o desfecho da trama. Pois progressivamente, a película vai mostrando a jovem mãe aflorando sua beleza e maturidade maternal, mesmo num meio onde o ser humano é consumido por suas aflições. Vale questionar agora o porquê de Leonera ser o nome do filme?Contudo, não vale supor ou apontar sugestões para chegar à resposta desta pergunta. Cabe ao expectador enxergar e concluir o que é ou o que (quem) pode ser Leonera, pois o filme de Pablo Trapero foge do “padrão” de abordagens dramáticas da classe média argentina e suas nuances para um trabalho referencial sobre dramas carcerários, diferindo do charmoso “cinema urbano” argentino.