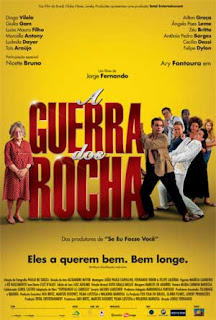I. Ponto cego nas representações cinematográficas da ditaduraOpinião Pública de Arnaldo Jabor destoa do tom geral dos filmes sobre a ditadura militar. Sem menção explícita ao Estado autoritário, Jabor faz uma minuciosa colagem de cenas documentais de uma suposta "classe" da sociedade brasileira, a classe média.
Entrecortado entre os mais diversos embarços cotidianos, o que se monta é um quadro de decadência da sociedade brasileira, marcada pelo seu conservadorismo, machismo e suas pequenas violências cotidianas. Desde a mulher que faz um balanço negativo de sua vida, narrando a decadência material de sua casa e sua família, enquanto o marido vivia em "farras", até a vedete ensinando as meninas "recatadas" o que é o amor, encontramos uma sociedade convulsionada e decadente, muito diferente das cenas combativas que estamos acostumados a ver nas centenas de filmes que abordam a luta armada.
O filme de Jabor ilustra um pouco o povo que as organizações de esquerda nunca encontraram na sua luta. A partir do filme, fica mais evidente o grau de descolamento existente entre as expectativas desses grupos e o seu poder de recepção por uma sociedade que, se não era um espelho não menos podre da ditadura que os governava, tinha com esse governo muitas afinidades, expressas não na vida pública ou nas idéias políticas, mas na sua miséria privada.
Um documento precioso pela sua peculiaridade na filmografia da ditadura, o filme faz um contraponto com a hipertrofia existente nos filmes e livros, da força das lutas contra a ditadura militar no Brasil. Na época em que foi feito, em 1967, o filme poderia ter gerado repulsa ou vergonha. Hoje, certamente nos permite perceber uma certa continuidade com o período ditatorial, insistentemente visto como um hiato e não como uma constante na história brasileira. A continuidade com o período se expõe na precariedade da sociedade brasileira, sempre passível à crise, ao autoritarismo e à fome.
II. Ponto cego no Cinema Novo
Com a
Opinião Pública, apareceram alguns ruídos dissonantes nos acordes do Cinema Novo. Os problemas brasileiros e a força da "ruptura" feita pelos cinemanovistas pareciam carecer de algo mais do que a denúncia dos problemas sociais. O filme de Jabor parece ser um sintoma desse mal-estar de uma estética que foi derrotada, paulatinamente, a partir de 1964, pelas armas. Era necessário responder esteticamente ao ataque feito pelo golpe civil-militar. Descobrir os nexos civis dessa quartelada que contou, novamente, assim como em 1889, com a perpexidade apática dos que não possuíam armas.
Menos rancoroso que
Terra em Transe, o filme de Jabor procura, sob a tutela atenta do narrador over, ouvir a "opinião pública" e não chacoalhá-la como fez Paulo Martins no filme de Glauber, como se o problema se tratasse nos termos de um encontro histórico, no qual o "povo" de Nelson Werneck Sodré faltou ao encontro.
Se, por um lado, percebe-se a necessidade ouvir seja lá o que for desses micro-ditadores, que há três anos eram uma fonte de esperança; por outro lado, o filme deixa sempre as suas falas incompletas, cortadas, não os deixando falar até o fim. Assim que diagnóstico é feito, corta-se a fala e o narrador entra para julgá-la, invariavelmente reprovando e desmerecendo o que foi dito. O filme deixa falar e ouve o que quer. Desse modo, aproxima-se de
Terra em Transe, embora busque encontrar as raízes do golpe por baixo e não por cima, como fez Glauber.
III. A ancoragem movediçaNos extras, Arnaldo Jabor (em depoimento contemporâneo ao lançamento do DVD) compara o seu filme com o que Eduardo Coutinho faria em
Edifício Master (2002).
A comparação é feliz no sentido de que tanto Jabor quanto Coutinho perceberam que para mostrar a miséria brasileira inteira era necessário abandonar a idéia "demiúrgica" de estado tão presente em
Terra em Transe. Isto implicava em reconhecer que o poder não emanava apenas de uma só fonte, mas é disseminado na sociedade, sob diferentes lutas e amplitudes.
A comparação é infeliz no sentido de que Eduardo Coutinho não se esconde em um narrador over. Ao fazer isso, não deixa a luta, a tensão entre diretor e sociedade, para a estúdio de montagem. Ele a faz ali, na frente das câmeras. Não que ele não se oponha às falas que ouve, não despreze algumas, não compreenda outras, mas o fundamental é que o diálogo se coloca dentro da representação, e só por isso é que há diálogo. No caso do filme de Jabor, o diálogo entre o povo, que felizmente ele foi encontrar, não acontece porque o cineasta se resguarda para a sua tacada final contra tudo que ouviu. Faz dos cortes da montagem sua resposta para àqueles que encontrou, complementadas pelo posicionamento a posteriori do narrador, rebatendo a sociedade que foi buscar. A pergunta que fica é a seguinte: o cineasta em 1967 se achava apartado desse povo que desejou ouvir?
IV. Jabor, ontem e hojeAo que tudo indica, ontem e hoje, sim. Jabor achava e parece continuar achando, ao contrário de Coutinho, que não faz parte da sociedade brasileira. Seus editoriais no Jornal da Globo, alguns até interessantemente críticos e linguisticamente bem elaborados, preservam essa marca indisfarçável de seu filme: o desprezo do intelectual pela sociedade.
Ambos, Jabor e Coutinho, fizeram parte do Centro Popular de Cultura da UNE na década de 60. Uma das discussões capitais no Centro era a posição que deveria ser ocupada pelo artista em uma sociedade que ele deseja ver transformada. Como entender o povo? Produto social, produtor ou transformador? Como entender o intelectual? Dentro ou fora do povo?
Jabor em 67 procurou entender o povo como produtor e produto da sociedade, retirando-lhe toda a carga transformadora, que havia sempre seduzido os membros do GT de Cinema do CPC. Em relação ao lugar do intelectual ou do cineasta dentro do povo, Jabor permanece inalterado. Tudo faz crer que, ontem e hoje, sob diversos contextos, ele permanece acreditando que ao intelectual é reservado o dever de "editorializar" o mundo, ao povo é reservado o papel imundo de vivê-lo.
A cada ano que passa, a inalterabilidade dessa postura de Jabor tem ganhado mais prestígio, visto que a tensão presente no CPC foi violentada pelo golpe de 64 e impediu que eles as resolvessem em um diálogo cultural e político com a sociedade. Depois do golpe, ficou mais fácil ser um intelectual elitista, basta ter dinheiro e espaço na mídia. Os argumentos político-culturais, únicos meios de fazer o diálogo dessa prática, foram sepultados em 1964 e aguardam a ressureição. Se é que ela virá.
Eduardo Coutinho, que optou por outro caminho, amarga o ostracismo midiático, o que parece não lhe incomodar. Seus filmes deixarão mais rastros éticos-culturais que os editoriais de Jabor, que andam servindo bastante à "opinião pública" para se esquivar moralmente da corrupção. Mas, qual a responsabilidade de todos - intelectuais e "opinião pública" nessa porno-política brasileira? Ela é só cinismo petista? O filme
Opinião Pública (1967) de Jabor está aí, relançado em DVD, para nos mostrar que o problema é mais complicado do que parece.
 Vicky Cristina Barcelona nos apresenta uma espécie de modo de produção intimista. As amigas Vicky e Cristina, apresentadas pelo narrador off onipresente, só parecem ser opostas. Confrontadas pelo narrador, Vicky é apresentada como séria e sistemática e Cristina como uma pessoa aventureira e inquieta. Ambas partem para um verão em Barcelona, uma cidade que inspira Cristina para a surpresa, para o novo e o inesperado. Em Vicky, a cidade sustenta as suas escolhas pelo estudo da identidade catalã, tornando-a mais segura daquilo que acredita e do conhecimento que almeja.
Vicky Cristina Barcelona nos apresenta uma espécie de modo de produção intimista. As amigas Vicky e Cristina, apresentadas pelo narrador off onipresente, só parecem ser opostas. Confrontadas pelo narrador, Vicky é apresentada como séria e sistemática e Cristina como uma pessoa aventureira e inquieta. Ambas partem para um verão em Barcelona, uma cidade que inspira Cristina para a surpresa, para o novo e o inesperado. Em Vicky, a cidade sustenta as suas escolhas pelo estudo da identidade catalã, tornando-a mais segura daquilo que acredita e do conhecimento que almeja.  Como coisa pública, a arte e a cidade são virtualidades indignas de representação e se encontram fora do filme. Não é por acaso que a cidade vista pelo filme é turismo, enquanto a arte vista pelo filme é o experimentalismo formal do gênio, atributo de raridade que lhe agrega valor no mercado.
Como coisa pública, a arte e a cidade são virtualidades indignas de representação e se encontram fora do filme. Não é por acaso que a cidade vista pelo filme é turismo, enquanto a arte vista pelo filme é o experimentalismo formal do gênio, atributo de raridade que lhe agrega valor no mercado.